
Nesta vida sempre tão apressada, hoje me surpreendi voltando à infância — não como quem revisita lembranças, mas como quem toca um território antigo, onde nasceram minhas primeiras perguntas , sobre qual o limiar entre sanidade e loucura. Eu criança, não conseguia entender o que era loucura, o porquê do isolamento . Depois quando minhas outras versões de mim foram transitando por períodos, em que minha sanidade foi colocada a prova e ficou por um fio, comecei a ter uma tênue ideia.
Às vezes, memórias não voltam: retornam, com força própria. Eu devia ter oito ou nove anos quando tia Erotildes — a nossa tia Tida — morreu. Minha tia, por parte de mãe, estava internada no São Pedro, um manicômio daqueles que pertencem mais ao passado do que à história.
Antes disso, houve a tentativa de a manter em casa, depois em hospitais. Sempre tudo envolto em silêncio. Apenas um murmúrio aqui, outro acolá — e vez ou outra sua situação era usada contra mim, quando eu me irritava com meus irmãos:
“Cuidado, vais acabar como a tia louca.” Hoje percebo: o medo deles era também o deles próprios, não o meu.
Eu, filha temporã, cheguei quando a vida dos meus pais já tinha mudado. Por isso tive acesso a piano, balé, inglês, viagens. E, sem que eu entendesse, isso acendeu uma ciumeira silenciosa em quem veio antes. Cada privilégio meu reabria neles uma falta antiga. É assim com famílias: são laboratórios de afeto e de feridas, de heranças e de carmas.
Sobre a tia Tida, diziam que sempre houvera algo inquieto nela — um nó existencial, talvez — mas foi um amor mal resolvido que detonou o gatilho. Há sempre um estopim. Minha mãe a visitava toda semana, levando roupas e mantimentos que sempre desapareciam. Nunca me deixava ir junto.
Até o dia em que minha mãe foi chamada porque minha tia estava mal, tuberculose.
Não chegamos a tempo. A imagem ainda me visita: minha tia estendida no chão frio, como se o corpo tivesse desistido antes da alma. Inerte. Morta.
Foi a primeira morte que vi, e foi trágica. Uma cena que não consegui apagar. E a primeira vez que entendi que a loucura, ao contrário do que dizem, não é um lugar distante — é uma fronteira finíssima, quase transparente, por onde todos nós poderíamos atravessar.
Essa experiência sempre me provocou uma pergunta que ainda ecoa em mim: onde termina a razão e onde começa a loucura? Qual o limiar da mente? Existe um ponto de não retorno?
Há estudiosos que afirmam que a loucura nasce do próprio humano — do caos que acumulamos, das expectativas frustradas, da sensação de não pertencer ao mundo, das pressões que nos esmagam por dentro. Brito (2011) diz que a loucura não é exatamente uma doença, mas uma extensão possível da própria razão: ambas coexistem, se alternam, dialogam no mesmo ser. Michel Foucault dizia: ” A psicologia nunca poderá dizer a verdade sobre a loucura, pois é a loucura que detém a verdade da psicologia.”
Hoje, quando penso nisso, percebo como o olhar para o sofrimento mental mudou.
A Inglaterra foi uma das primeiras a abrir as portas dos antigos manicômios, a permitir que aqueles considerados “loucos” voltassem ao convívio social. Misturados entre nós, revelam algo perturbador e verdadeiro: a sanidade nunca é um ponto fixo, mas uma travessia.
Há tantos e diversos distúrbios mentais E talvez, no fundo, todos nós caminhemos nessa linha tênue — ora mais lúcidos, ora mais perdidos — tentando equilibrar nossas sombras e nossa luz.
Afinal, a loucura não é o oposto da razão: é apenas uma das formas humanas de existir.
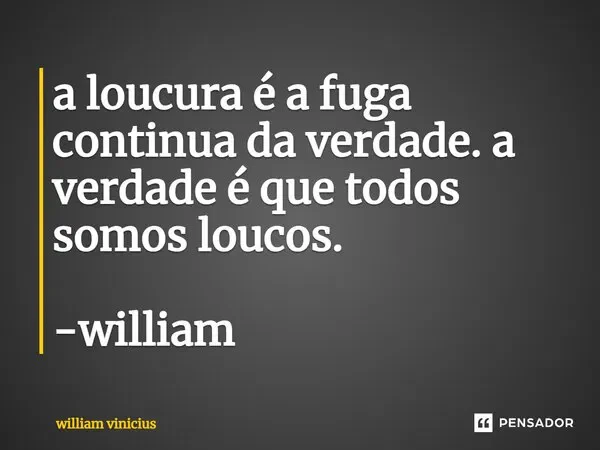
Cida Guimarães
08/12/2025


